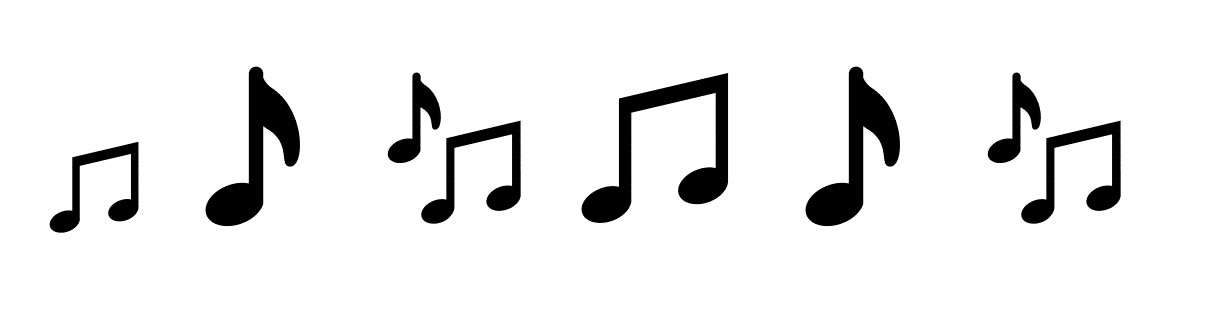Xenia de Carvalho* ǀ Não estou a localizar o futuro, mana, lhe perdi a direcção – lembras quando essa ideia derrapou no cimo do nosso entendimento, que nos fez impressionar o pensamento e intentar encontrar esse futuro ali mesmo, na esquina onde estávamos, e depois no google maps? Essa tecnologia não nos ajudou mesmo! O futuro não estava localizável nisso d’googlar, nem mesmo nisso da esquina… Dizem que isso dá de acontecer quando a trama vai densa, a vida (des)cai, derrapa ali mesmo na curva da present’alidade. E eu de pensamento que esses tempos são estranhos são, descamam a alma assim, sem mesmo dar espaço a um entendimento da humanidade.
O futuro está deslocalizado, minha irmã, se perdeu nesse rumo feiticeiro em que nos tapamos, nos escondemos. Te levanto aqui a feitiçaria por um momentito, deixo de recant’ar e me exponho para partilhar o acontecido num desses dias aí, quando deram de me questionar, epa! e de que forma agrest’iva!, se “tu aí tu! és normal?”. Epa! (desculpa lá a repetição, mas expressa a minha emocionalidade torcida pela questão). Que respondes a esse questionamento?? Fui em busca da anatomia da normalidade, para me poder descrever no próximo questionamento, que creio será breve breve. Me desencaixei nisso da (a)normalidade e tive maningue dificuldade em encontrar o eixo. Dizem que a deslocalização da normalidade começou com esse Covid, com essa doença que se espalha maleficamente pelo meio da turba, das gentes misturadas. Lhe digo que não! Começou faz muito, muito tempo…
Mana, partilho a história da anatomia da normalidade, gingo com essa sonoridade que peço que
cliques aí EM CIMA – (432) HAUSER & Ksenija Sidorova – Libertango – YouTube – que te guie pelo
correr das palavras que uma mulher espanhola escreveu sobre a loucura e o assassinato do seu filho. Isto enquanto corria a guerra e depois de ter terminado.
História da anatomia da normalidade (*com o texto original partido em socalcos para cumprir o andamento musical)
Que tod@s se juntaram para silenciar a mãe de Frankenstein,
porque não havia trincos nos quartos do manicómio
Que tod@s se juntaram para (des)costurar as possibilidades de ser mulher,
Acabou-se o porto de Sebastopol, o globo terrestre,
as plantas da estufa, acabaram-se as palavras e os dicionários,
a música, acabaram-se os livros, as enciclopédias e as histórias,
apagou-se a luz, foi o que aconteceu, apagou-se a luz
e eu fiquei às escuras com o que me cabia,
a vida para a qual tinha nascido,
lavar, limpar, engomar,
o meu avô já me avisara,
era esse o meu destino e foi o que encontrei,
nem mais nem menos.
Que tod@s o fizeram, ah! isso ocorreu certo dia, já a guerra tinha terminado.
Com franqueza, se nós, as lúcidas,
já pouco importamos,
imagine as loucas.
São as últimas de qualquer lista.
Sabe quantas das nossas residentes são mulheres
de homens poderosos que conseguiram pô-las aqui
para as tirar do caminho,
privá-las de direitos e viver tranquilamente com as amantes?
Mesmo que não fosse director de um manicómio masculino,
uma autoridade como o Vallejo nunca aprovaria
que as mulheres beneficiassem do novo fármaco antes dos homens.
No manicómio feminino de Ciempozuelos, perto de Madrid, Gérman Velázquez, psiquiatra espanhol exilado na Suíça desde 1939, regressa ao seu país na década de 1950, para exercer a profissão de (re)construtor de almas. A Guerra Civil (1936-1939) em Espanha estava oficialmente encerrada. Mas tu o sabes, mana, na realidade do passar dos dias as guerras civis não se fecham por decreto ou data assinalada.
Na casa das loucas, Gérman assume funções de especialista num tal medicamento que controla a alienação. Ou assim o dizem. Nesse manicómio de mulheres – porque as mulheres tinham, ou ainda têm?, manicómios específicos – Gérman reencontra uma das mulheres de seu pai, Aurora Rodríguez Carballeira. Num desses dias do passado, Aurora matou a filha e foi ao encontro do pai de Gérman, também ele psiquiatra, tendo essa visita ficado marcada na memória do filho-suíço-espanhol-que-a-guerra-civil-exilou.
Em 9 de junho de 1933,
a campainha do consultório do meu pai
soou às nove e meia da manhã.
(…)
A partir daquela manhã,
daquela campainha,
a minha memória dividir-se-ia para sempre em duas metades opostas.
Até aquele momento, evocaria uma cena luminosa,
o reflexo de um sol ainda jovem,
mas já ambicioso,
inundando a entrada através das vidraças do escritório,
a sensação de calor sobre a pele. E depois abri a porta
e é impossível que fizesse frio,
mas é assim que em lembro do momento.
(…)
Papá, papá!
Corri para o gabinete e abri a porta sem bater.
(…) papá, são visitas.
São um senhor normal e uma senhora muito… estranha.
Aurora tinha morto a filha. Explicou.
A Hildegart foi uma obra minha,
explicou a dona Aurora,
e não me saiu bem.
Demorei demasiado tempo a perceber,
mas agora tenho a certeza.
Todo os meus esforços foram em vão e depois…
Fiz aquilo que faz qualquer artista
quando compreende que se enganou
e destrói a sua obra para poder recomeçar.
A mãe que assassinou a filha foi catalogada e internada num manicómio de mulheres, onde as freiras se assumem poderosas e os médicos se lixam – ou alienam-se – para a recuperação ou desenlace dos nós que alheiam as mulheres.
Até que Gérman traz o medicamento-maravilha-milagre-que-permite-descansar-das-vozes-paranóias-para-dar-lugar-a-uma-cura-tentativa? Com o medicamento há espaço para tranquilidade, as pacientes conseguem uma quase-normalidade. O filho do psiquiatra que encontrou o frio na memória, reencontrou a mulher que o causou e empenhou-se em compreender o sofrimento e lho travar. Não creio que quisesse contribuir para a normalização de Aurora, até porque a normalidade é categoria desentendida e des’finida, não se lhe encontrando um significado encaixante nisso do ser em si. Mana, a normalidade veio depois descrita, ah! veio sim!, quando uma das mulheres-que-ajudam-os-médicos, com estatuto menor naturalmente, lhe conta, a Gérman, como o avô dela e @s outr@s mataram o filho de Aurora já no manicómio. Ouve a história, percebe a natureza do filho e do acto. Percebe essa normalidade des’finida.
A porta do quarto estava fechada, embora não no trinco,
como eles sabiam, obviamente,
porque não havia trincos nos quartos do manicómio,
claro está,
mas o meu avô deu um pontapé na porta,
arrancou-a dos gonzos,
entrou no quarto como um cavalo desembestado,
e, como a dona Aurora não estava na salinha, continuou para o quarto,
onde a viu, sentada na cama, a falar com o boneco grande,
porque na altura já tinha começado a fazer-lhe um irmão,
para ver se teria mais sorte com aquele, imagino,
mas ainda não estava acabado, tinha cabeça,
mas não mais do que uma bola de trapos,
e faltavam-lhe os dedos das mãos,
embora tivesse um pénis ainda maior que o primeiro.
Para o meu avô pouco importava.
Sacou da navalha que trazia sempre no bolso
e cortou-lhe o pescoço como se ele estivesse vivo,
enquanto os serventes seguravam a dona Aurora,
que a princípio ficou atordoada,
como se não compreendesse o que se passava,
mas depois largou a gritar como uma possuída,
pedindo socorro aos médicos, às freiras,
chamando-lhes assassinos, criminosos, ladrões,
até que um dos serventes libertou uma mão
e lhe deu uma bofetada que nos fez chorar às duas,
embora ninguém reparasse em mim.
Chorei em silêncio, mas ela não parou de gritar
enquanto o meu avô acabava de esfaquear o boneco pequeno
e se lançava ao grande,
cortando-lhe a cabeça, os braços, as pernas,
tal como se fosse uma pessoa, para o esventrar a seguir com as mãos,
e a minha avó começou a fazer a mesma coisa,
e as outras mulheres imitaram-na, ainda as consigo ver,
ajoelhadas no chão, formando uma roda,
cercando os bonecos como se fossem animais,
era o que pareciam,
um bando de bestas devorando uma carcaça
e, em menos de cinco minutos,
não havia senão trapos no quarto da dona Aurora,
e então alguém disse que era preciso trazer um saco
para levar aquele lixo todo,
para que ela não os pudesse fazer novamente (…)
E foi assim que se apagou a luz e Aurora não mais ensinou a mulher-auxiliar, María Castejón, sobre o globo terrestre, a música, os livros e tantas outras coisas mais, que com elas pretendia elevar María acima do que lhe estava destinado por ser mulher em condição d’ser social. Mana, a anormal era Aurora. O avô de María e tod@s os que o seguiram no acto do esventramento eram os normais. Essa é a anatomia da normalidade em tempos incertos, porque nas casas d@s louc@s não há certezas, apenas na dos sãos o tempo corre de forma ordeira e certa. Não, mana, não digo que Aurora estivesse bem, matar a filha é acto que carece de explicação, mas a turba esventrar os filhos-bonecos-em-raiva-descontrolada?? Isso é a normalidade? Porque esses estão cá fora, e aguçam a intensidade do acto de perseguição quando se vêm acossados, rodeados, retirados da sua normalidade.
Breve nota sobre quem escreveu a história (*que a escreveu em prosa e não texto quebrado)
Almudena Grandes (1960-2021), escritora madrilena, escreveu esta história, “A Mãe de Frankenstein”, edição da Porto Editora de 2022, publicada em Espanha em 2020. Entre a publicação em língua espanhola e a chegada à língua portuguesa passaram dois anos, já Almudena tinha falecido. Deixo a sua voz e o contar da história por detrás da história no correr da sua intenção ao ir buscar Aurora e o manicómio feminino (clica aí, mana, e ouve no link que te deixo): (432) «A Mãe de Frankenstein» de Almudena Grandes – YouTube
O
U
V
I
S
T
E
?
Mana, manda lá a resposta para saber o que vou responder quando me questionarem aguerridamente, será breve breve, sobre o que é isso da minha normalidade. Porque Aurora e o seu filho não sei não, entenderão?
*Antropóloga, PhD. Investigadora associada, CRIA/ISCTE-IUL.