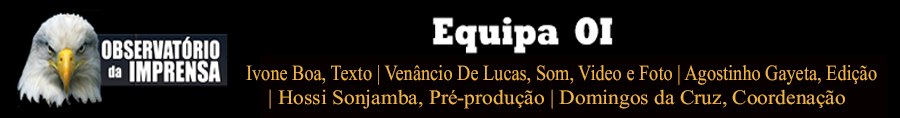Domingos da Cruz (DC) – Sobre isso, gostaria de lembrar um livro interessante, que foi publicado por um jogador negro francês…
Solange Rocha* (SR) – Sim, “Minhas estrelas negras”, de Lilian Thuram.
DC – Acho esse livro incrível! No sentido do equilíbrio entre recuperar a nossa contribuição para a humanidade e mostrar o que passamos de mal, e como resistimos. Acho óptimo para as crianças. O que acha, professora, em relação à preocupação de alguns sobre as memórias se focarem muito no negativo?
SR – Quero comentar a sua preocupação acerca das “memórias negativas”. Não podemos negar a escravidão. É muito comum, as pessoas e intelectuais afirmarem que há muito espaço para o tema da escravidão no Brasil e as relações raciais, deixando em segundo plano a história da gente negra no período da Pós-Abolição (1888). Os manuais didáticos, dizem, abordam a população africana na condição escravizada no período da história colonial do Brasil e na fase final da escravidão. No meu ponto de vista, o estudo sobre a escravidão atlântica não se esgotou. Pelo contrário, desconhece-se o vasto conhecimento acerca dos sujeitos sociais no contexto da escravidão no Brasil e em outras partes das Américas. No caso do Brasil, são inúmeras as pesquisas elaboradas nas últimas três décadas, que ressaltam as diferentes condições jurídicas das pessoas negras, para além das escravizadas. É preciso considerar também as libertas, as livres e, a partir de 1871, as ingénuas. Estas pessoas, que viveram numa sociedade escravista, estabeleceram vários arranjos sociais e políticos, mostrando-nos a complexidade das suas experiências históricas. Mostrando também que a condição escrava não era permanente, dependendo das circunstâncias e alianças sociais, o indivíduo poderia movimentar-se na escala social, o que implicava construir novas estratégias para sobreviver em coletividade, estruturada em relações de extremas desigualdades e hierarquias sociais, de raça/cor e de género. Considero fundamental o estudo sobre a temática da escravidão, tanto na educação formal quanto em espaços variados que possibilitem um diálogo e um conhecimento ampliado de como se deu o processo de formação do Brasil, a partir do processo de escravização de africanos e de seus descendentes. Um processo fortemente marcado por violências, explorações. Pode ser uma forma da população brasileira se debruçar sobre o seu passado, compreender o significado de “historicamente excluídos” e, quiçá, perceber as implicações do passado no presente. Um país em que dois terças da sua história se alicerça em relações escravistas e que, passados mais de cento e trinta e dois anos do fim do escravismo, mantém as desigualdades sociais e económicas.
…urgência de se estudar a participação de soldados africanos e asiáticos nas duas guerras “mundiais”
Além disso, há uma riqueza de narrativas sobre o período da escravidão nas Américas. Existem biografias de indivíduos que nos contam sobre o tráfico transatlântico, o trabalho escravo, a violência do sistema, relações de amizade e de apoio. Por exemplo, o fantástico Mahommah Gardo Baquaqua que foi escravizado no Brasil (1845), mas se tornou libertou e circulou por vários países. Tudo começou com uma viagem aos Estados Unidos, em 1847, em cujo território, primeiro, teve a coragem de se manifestar que era um cativo e, em seguida, obteve apoio de abolicionistas para ser libertado. Por cerca de dez anos, residiu em alguns países (Haiti, Canadá, Inglaterra) e deixou a sua trajetória registada num livro autobiográfico (1857), traduzido somente no Brasil na década de 1990, pelo brazilianista Robert Krueger (Biografia e narrativa do ex-escravo Mahommah Gardo Baquaqua. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1997). Ademais, temas clássicos, como a resistência do Quilombo de Palmares (século XVII), símbolo da liberdade no Brasil, foram revisitados e merecem ser divulgado para público amplo, mas não só este! No Brasil, há quilombos em todas as regiões. Pesquisas recentes mostram-nos quilombos com homens e mulheres negros, pessoas brancas pobres e povos indígenas, contrapondo-se ao projeto colonial e imperial. Também se tem investigado sobre as estratégias das famílias negras de pessoas escravizadas para estabelecer laços familiares. Consegui reconstituir três gerações de famílias de mulheres escravizadas que viviam na Capital da Paraíba, no século XIX e que foram comprando cartas de alforria para libertar os seus membros. Estas e muitas outras experiência merecem ser conhecidas, pois a história social possibilita o conhecimento da acção dos sujeitos, as suas negociações possíveis em contexto adverso. Procuramos restituir as histórias dos grupos silenciados e subalternizados, para iniciarmos um processo de descolonização de saberes/conhecimentos na história, a partir de pesquisas, ensino e diálogos com a sociedade. Trata-se de conhecer essas experiências, de mulheres e homens que agiram, social e politicamente, dentro de suas possibilidades contra um sistema de opressão escravista e, depois, articular com o tempo presente, posto que o Brasil ainda não discutiu adequadamente este passado. Este passado-presente que tem reconfigurado as relações sociais mantendo o racismo e as desigualdades sociais. A partir do reconhecimento desse passado poderemos repensar um outro Brasil, com efetivação da justiça social e racial.
A Lei federal nº 10.639, aprovado em 2003, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (1996), procurando garantir o conhecimento do passado. Esta lei torna obrigatório o ensino da Educação das Relações Étnico-Raciais, a História da África e da Cultura Afro-Brasileira em todos os níveis de formação. Na Universidade Federal da Paraíba, a Resolução (nº 16/2015) exige a reformulação dos currículos de todos os cursos, da História à Matemática, passando pela Medicina, Serviço Social, Engenharias e cursos técnicos, inserindo a temática das relações étnico-raciais. Espera-se, assim, uma formação que contemple a diversidade sociocultural do Brasil, incluindo povos indígenas e população negra. Importa ressaltar que esta mudança curricular era uma demanda política dos movimentos sociais negros desde a primeira metade do século XX, intensificando-se com a revindicação do Movimento Negro Unificado (1978). Foram necessárias décadas de debates e embates para a institucionalização de uma educação que reconheça história e cultura de mais de 54% dos habitantes do Brasil, a população negra. Possibilidades, enfim, são abertas para conhecermos as “estrelas” negras do período escravista e do pós-escravista. 

DC – Acho que sim, acho que sim professora!
SR – É importante a construção e divulgação de narrativas que ampliem o conhecimento sobre o continente africano. Como por exemplo a Coleção da História Geral da África – oito volumes e uma síntese, em dois volumes para atender a Educação Básica – que mostra uma África plural, com as suas várias culturas, com as suas riquezas e contradições, e também tecnologias africanas incorporadas ao mundo ocidental. Apesar disso, prevalecem estudos que não consideram a engenhosidade africana. Insistem que a ciência foi feita, sobretudo, por europeus. Nem sempre as pessoas têm uma compreensão ampla da história da humanidade, de pensar a África como um continente multissecular, com uma organização própria, com capacidade criativa. Pelo contrário, mantém uma narrativa eurocêntrica, sempre reatualizada, afirmando uma suposta superioridade europeia.
DC – Uma memória selectiva?
SR – Sim! Em que se exalta e enaltece, os sujeitos europeus. Nas cidades portuguesas, a memória da expansão marítima é reavivada com projetos como a controversa proposta do Museu dos “Descobrimentos”. Descoberta, descobrimentos do quê? O território denominado América, no século XVI, era formado por inúmeros povos nativos com diversidade de culturas, mas com a “descoberta” gerou um sistema opressivo, de exploração de riqueza, do extermínio de povos indígenas. Passado séculos, falta uma autocrítica que considere as consequências da expansão portuguesa, em suas dimensões, a construção de um outro imaginário que reconheça a complexidade das relações atlânticas. Passei um período em Portugal e foi inevitável perceber que nas cidades predominam memórias que enaltecem os homens que circularam por vários continentes, muitas vezes não há uma visão sobre o rasto da miséria que deixaram por onde passaram. Felizmente, os protestos negros, iniciados nos Estados Unidos, em maio deste ano, após o cruel assassinato de George Floyd (25/05/20), têm colaborado para o questionamento e derrubada de representações de símbolos coloniais em vários países. Sendo que, no Brasil afora, os monumentos com memória da opressão colonial também têm sido contestados, podendo ser um momento para nos confrontarmos com o passado que se faz presente, redefinir as representações no espaço citadino considerando todos os segmentos sociais. Será possível? O ano de 2020, tem sido um tempo sem precedente, um período de crises. Quiçá, as crises possam provocar debates, embates, mudanças, enfim, um (re)encontro com o nosso passado.
Procuramos restituir as histórias dos grupos silenciados e subalternizados, para iniciarmos um processo de descolonização de saberes/conhecimentos na história, a partir de pesquisas, ensino e diálogos com a sociedade.
DC – Exato! Falava sobre a necessidade de se identificarem resistências nos processos de opressão, de como os indivíduos – mesmo oprimidos – se posicionaram. Lembra-me, por exemplo, os militares africanos na segunda guerra mundial na Europa. Hoje, os franceses não sabem que, se não fosse a presença africana teriam sido engolidos pela Alemanha!
SR – Muito bem lembrado. No mês passado, conversava com uma estudiosa do tema da Guerra do Paraguai (1864-1870), que realizou uma pesquisa sobre arregimentação e participação dos soldados negros no principal conflito bélico na América do Sul, no século XIX. Avançando na conversa, destacava a urgência de se estudar a participação de soldados africanos e asiáticos nas duas guerras “mundiais”, pois estes estão totalmente invisibilizados. A memória divulgada, em geral, privilegia uma narrativa de heroísmo dos homens brancos, de origem europeia, invisibilizando o papel dos sujeitos das áreas colonizadas e que foram fundamentais para várias vitórias. Em vários países europeus a memória da guerra é muito viva. Ao longo do ano, há cerimónias para relembrar os momentos decisivos da guerra e o reconhecimento dos anónimos soldados, a exemplo dos memoriais em homenagem ao “soldado desconhecido”. Homenagem justa, que podem ser ampliadas com o reconhecimento da importância da participação desses soldados, de forma a construir novas representações históricas.
DC – Professora, os europeus, nas cerimónias, só se lembram dos que partiram durante a guerra, mas há sobreviventes, já velhinhos e alguns sobreviventes africanos existem, ainda hoje. Muitos partiram, depois voltaram para África. No Senegal, há alguns ainda vivos, na República Democrática do Congo, dentro da França…e não são chamados para estas cerimónias?
SR – Sim! É exactamente isso, a importância do direito à memória. Reconhecer a participação nessas lutas, num acontecimento histórico relevante na história mundial. É um direito à memória, como dito anteriormente. Importa ressaltar que a Organização das Nações Unidas (ONU), tem realizado recomendações normativas e estimulado projetos como a “Rota dos Escravos: resistência, liberdade, patrimônio” (1994), que propõe novas abordagens de uma memória dolorida. Seja o tráfico e escravização de pessoas no processo de formação do capitalismo, a denominada escravidão atlântica. Além de documentos sugerindo mudanças curriculares, “lugares de memória” são reconhecidos e construídos, assim como datas são indicadas para reflexões sobre o racismo e desigualdades sociais. Nesse último caso, lembro de duas datas, são elas: 25 de março: Dia Internacional em Memória das vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de escravizados e 23 de agosto: Dia Internacional para Relembrar o Tráfico de Escravos e sua Abolição, em referência às lutas de resistência a Revolta de São Domingo, actual Haiti (1791-1804). São marcos que nos permitem pensar no nosso passado, no nefasto tráfico e no sistema escravista, e também na sociedade que queremos construir.
A memória do passado tem sido reactivada. Seja no Brasil com a “Pequena África” no Rio de Janeiro, que eleva a condição de património cultural da humanidade (2017) e envolve oito lugares da memória da população negra, como o Cais do Valongo, onde mulheres e homens africanos eram desembarcados num dos maiores mercados de tráfico de pessoas durante a escravidão atlântica e o Cemitério dos Pretos Novos. Ou, em Portugal, com o Memorial em Homenagem às Pessoas Escravizadas, que se encontra em construção na área central de Lisboa, cuja representação será feita por plantações de cana-de-açúcar, para refletir na “prosperidade e pesadelo”, um projeto do angolano Kiluanji Kia Henda. Estas representações do passado, permitem o reconhecimento da história da população negra e, esperamos, a ampliação do debate do racismo, posto que os dois países precisam enfrentar o seu passado escravista e suas heranças, racismo, invisibilidades, desigualdades sociais… 

DC – Certo! Gostaria de lembrar um monumento interessante, o museu do genocídio alemão contra o povo Herero e Namas na Namíbia. É pouco conhecido, e neste momento há uma disputa entre o governo namibiano e alemão que tem causado desentendimentos diplomáticos sobre a necessidade de indemnizar as vítimas. Quase dois grupos étnicos terão sido totalmente dizimados pelos alemães, e eu acho que é um genocídio sobre o qual quase não se conhece e que foi trágico!
SR – Muito interessante, esse Museu do Genocídio Alemão na Namíbia. Eu não conheço, mas parece ser uma forma de confrontar uma memória e apresentar as violências realizadas em nome de uma suposta “civilização”.
DC – É sensível, de alguma maneira colocar-nos no espelhos, vemo-nos a nós mesmos, e saber se, de alguma maneira houve ou não contribuição dessas elites. Acho que vale a pena debater, mas ficar focado nisto, para já não se pode negar o essencial que é o grande crime que foi feito contra nós?
É importante a construção e divulgação de narrativas que ampliem o conhecimento sobre o continente africano.
SR – Sim! Sem dúvida! A ideia não é negar. É trazer à tona a complexidade dos seres humanos. Os seus interesses, as disputas dos europeus no espaço do continente, assim como as elites africanas que estiveram envolvidas em conflitos internos que foram ampliados a partir do século XV. Os confrontos fazem parte da história da humanidade. Sendo que, no continente americano, em especial na América do Sul, tivemos conflitos entre os diferentes povos indígenas. O processo de colonização, em alguns momentos, aprofundou as diferenças, o que levou à formação de alianças com povos europeus, mostrando-nos um complexo jogo político. Isso reforça a perspectiva da complexidade humana, e as várias memórias possíveis de serem rememoradas, não deixando de assumir as tragédias do passado, como o extermínio de várias populações, como ocorreu, recentemente, com judeus, e num passado mais distante, como o tráfico e escravização de africanos. Nesse caso, cerca de doze milhões de africanos sobreviveram à travessia Atlântica e forma submetidos à exploração, assegurando o desenvolvimento do capitalismo. Trata-se de reconhecer essa exploração. Do passado para o presente, no contexto da pandemia do coronavírus, o governo francês informou que deixaria de cobrar dívidas de alguns países africanos. O seu discurso foi visto como algo excepcional, de ajuda humanitária. Sabemos, porém, que no passado, o Estado de bem-estar social em vários países europeus foi baseada na exploração das riquezas e do trabalho de africanos. Ou seja, muitos foram explorados para que os povos europeus tivessem e continuem a ter, acesso aos direitos sociais. Colocam [o pagamento das dívidas] como se fosse uma benesse, não reconhecendo, mais uma vez, a exploração que contribuiu para a situação de pobreza das antigas áreas colonizadas pelos franceses. 

DC – Há um debate e resistência das novas lideranças africanas, no campo cívico e político, em relação a isso. A França está a ser submetida a uma grande pressão e sabem que a sua imagem no continente está beliscada. A mancha já não é limpável. Essa decisão é uma estratégia de recuperação de imagem no continente. É geopolítica e geoestratégica!
SR – Geopolítica, exatamente!
DC – Professora, agradeço imenso pela disponibilidade.
SR – Grata pela oportunidade.!
DC – Obrigado!
****
SR– Gostaria de destacar três livros digitais, produzidos com objectivo de divulgar e popularizar conhecimentos científicos sobre a população na Diáspora Africana no Brasil para público mais amplo. Contamos com apoio do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas/NEABI-CCHLA, do Programa de Pós-Graduação em História, Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista e Editora da UFPB e, sem dúvida, com colaboração de vários colegas e do coorganizador, conseguimos organizar três volumes da Coleção Afro-Paraíbana: Travessias Atlânticas & Paraíba Afro-Diaspórica, a saber:
ROCHA, Solange P.; GUIMARÃES, Matheus S. (Orgs.). Experiências históricas da gente negra na Diáspora Africana: Paraíba Colonial e Imperial. João Pessoa: Editora da UFPB, 2018. Coleção Afro-paraibana: Travessias Atlânticas e a Paraíba Afro-diásporica. Volume 1. Disponível no portal da Editora da UFPB: http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/125.
ROCHA, Solange P.; GUIMARÃES, Matheus S. (Orgs.). A Paraíba no Pós-Abolição e no Tempo Presente. João Pessoa: Editora da UFPB, 2018. Coleção Afro-paraibana: Travessias Atlânticas e a Paraíba Afro-diásporica. Volume 2. Disponível no portal da Editora da UFPB: http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/126.
ROCHA, Solange P.; GUIMARÃES, Matheus S. (Orgs.). Conexões, Conhecimentos e Saberes: Extensão Universitária, ensino e pesquisa para a Educação das Relações Étnico-Raciais. João Pessoa: Editora da UFPB, 2019. Coleção Afro-paraibana: Travessias Atlânticas e a Paraíba Afro-diásporica. Volume 3. Disponível no portal da Editora da UFPB: http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/214
*Solange Rocha. Pós-Doutora pela Universidade de Coimbra. Doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco e Professora da UFPB.