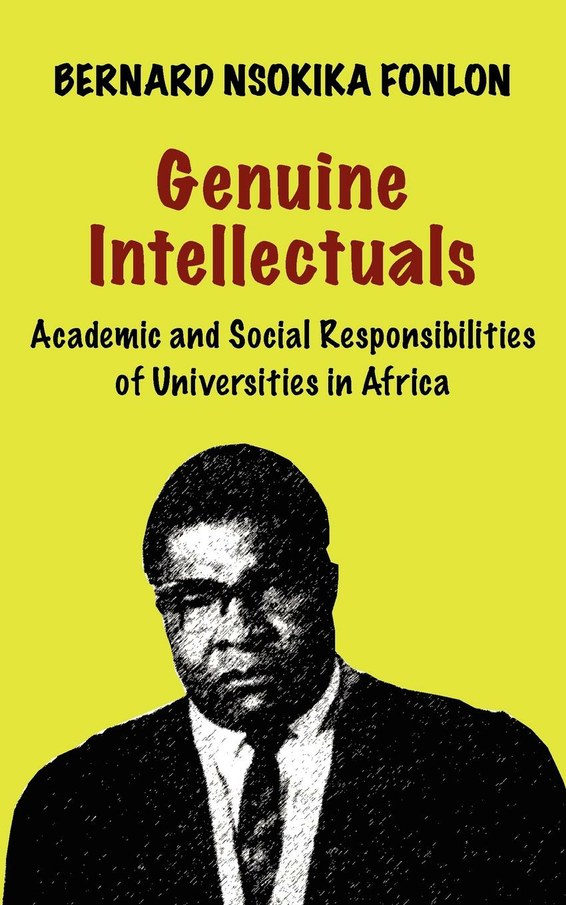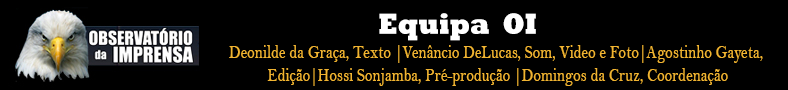Elísio Macamo*│O intelectual normal não existe. Ele é uma ficção útil à moderação dos vícios epistémicos que comprometem a intervenção intelectual. Esses vícios estão reunidos nas caricaturas que faço do intelectual do óbvio, da verdade e do povo. São vícios porque a sua prática põe em causa a qualidade do conhecimento produzido com recurso a essas posturas. Neste sentido, o intelectual normal é uma categoria residual no sentido em que ela idealiza certas virtudes (o oposto dos vícios enunciados em relação às três categorias de intelectual) que, em condições normais, deviam orientar a actividade intelectual.
“Condições normais” é um termo muito importante neste contexto. Na verdade, ele também aponta para um ideal, isto é para circunstâncias sociais e políticas dentro das quais seria possível praticar a intelectualidade de forma “normal”. Essas condições, infelizmente, não existem. A actividade intelectual ocorre sempre em condições anormais. São essas condições que propiciam o recurso aos vícios intelectuais, mas também são reforçadas pela entrega de alguns a esses vícios. No nosso país neste momento essas condições anormais têm muito a ver com a polarização, com a necessidade de certeza e, infelizmente também, com o desiderato de razão onde a reflexão e o debate são quase sempre inconclusivos. O intelectual do óbvio, da verdade e do povo surgem como resposta a essas condições ao mesmo tempo que ajudam a reproduzi-las. É um círculo vicioso.
Nos últimos tempos tenho estado a ler um filósofo e sociólogo americano, Steve Fuller, que me tem desconcertado bastante com a sua abordagem ao que ele chama de epistemologia social. Praticamente, ele põe de pernas para o ar tudo o que aprendi sobre ciência por questionar o direito que a “ciência” se arroga de ter o melhor acesso ao conhecimento. Ele não é, naturalmente, a primeira pessoa a fazer isto, nem vai ser a última, mas há algo de desconcertante quando alguém traz argumentos plausíveis para defender, por exemplo, a ideia de que aquilo que na América chamam de “desenho inteligente” (intelligent design) – o contra-argumento à teoria da evolução de Darwin – merece ser tratado como uma teoria com o mesmo estatuto que todas as outras teorias científicas. Ele rejeita a ideia, por exemplo, de “pós-facto” com o argumento segundo o qual o termo seria apenas um insulto usado pelos que se consideram donos da verdade (portanto, os cientistas) na falta de melhores argumentos. É que seguindo o seu raciocínio não haveria como fazer recurso à ciência para demonstrar, por exemplo, a realidade das mudanças climáticas, nem mesmo para argumentar contra a ideia de que a terra seria plana. A sua irreverência é duma elegância desconcertante.
Foi com essas ideias no fundo da cabeça que tentei entender as reacções à intervenção dum historiador moçambicano e comecei a desenhar formas de intervenção intelectual reais, mas quanto a mim problemáticas. Contrastei-as com aquilo que, apesar de tudo, define a ciência, a saber a dúvida que se consubstancia na ideia da falibilidade do conhecimento humano. Com efeito, a marca distintiva dos três tipos de intelectualidade que tentei descrever ao longo dos últimos dias é justamente essa: eles procuram pela certeza e não têm consciência da falibilidade do conhecimento que produzem. Esta procura pela certeza e a crença na infalibilidade do nosso conhecimento constituem uma forte tentação para qualquer um de nós. Dito doutro modo, nenhum de nós é imune a isso porque vivemos e somos membros de comunidades. Eu, de certeza, já fiz recurso ao óbvio, à verdade e ao povo para falar sobre o país. Ao fazer isso, sucumbi a um vício nocivo à saúde do debate na esfera pública. Ao mesmo tempo, porém, tenho consciência dessa tentação e, por isso, preciso do tipo ideal de intelectual – o “intelectual normal” – para me orientar na minha intervenção.
Essa é a utilidade destas categorizações. Não é, como algumas pessoas menos sólidas na sua própria identidade intelectual pensam, uma maneira de dizer que sou o único intelectual “normal” na esfera pública moçambicana. Nem é, como alguém comentou, uma maneira de sugerir que em Moçambique não haja intelectuais. O objectivo é de reafirmar a utilidade da abordagem científica numa altura em que a vulnerabilidade aos vícios epistémicos é maior e a profusão de informação paralisa algumas pessoas no seu discernimento. Hoje, mais do que nunca, o método é fundamental, pois, intelectual não é aquele que dispõe de muita informação, mas sim aquele que sabe digerir essa informação. Eu por vezes divirto-me analisando o que certas pessoas compartilham nos seus murais, sobretudo pessoas activas no ensino superior. É interessante notar como algumas delas consistentemente compartilham o mesmo tipo de perspectiva, algo que para mim é sintomático duma certa “polarização” intelectual dessas pessoas, isto é o consumo de informação que conforta as suas convicções e reforça os seus preconceitos.
Os intelectuais não vão nem desenvolver o país, nem resolver os problemas que ele enfrenta. Essa é a tarefa dos políticos e técnicos que temos de sobra. O que os intelectuais podem fazer, contudo, é ajudar a reflectir melhor o país. Eles contribuem, a partir da sua reflexão, para uma melhor identificação e formulação dos problemas para os quais os políticos oferecem soluções e os técnicos fornecem instrumentos de implementação dessas soluções. O problema, porém, é que os problemas identificados pelos intelectuais podem não reflectir necessariamente os “verdadeiros” problemas. Os intelectuais são falíveis, equivocam-se e são vulneráveis aos vícios epistémicos. O ideal, porém, é envidar todos os esforços possíveis no sentido de reduzir os equívocos e proteger-se dos vícios para que haja maior confiança no problema formulado pelo intelectual. Quanto mais claros forem os critérios que definem o “intelectual normal”, melhor será para a saúde do debate na esfera pública. Mesmo que nenhum de nós consiga ser um “intelectual normal”, identificar um intelectual do óbvio, da verdade e do povo já é bom como protecção contra conhecimento problemático.
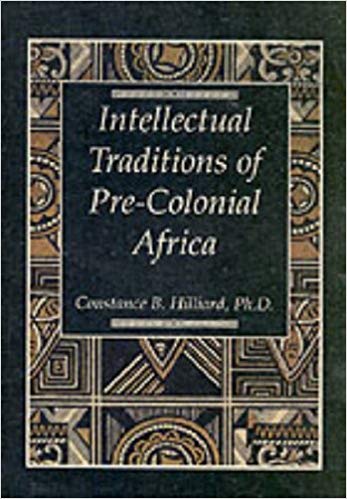
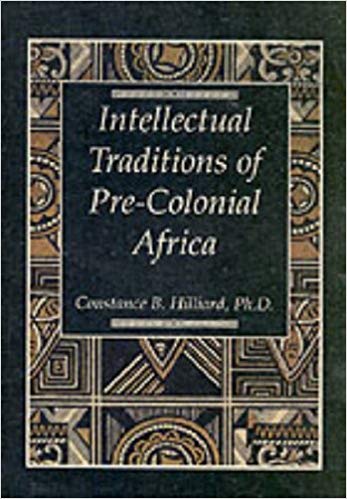
Por exemplo, recentemente li uma entrevista do professor universitário Adriano Nuvunga sobre a perspectiva da paz no país. Ele dizia que o sucesso depende da mudança do ADN da Frelimo, partido sobre o qual ele coloca toda a responsabilidade não só pela violência como também pela ausência de desenvolvimento e bem-estar no país. No mesmo fôlego, ele introduz uma distinção curiosa entre a Renamo, como partido, e a Renamo como todo o povo que se sente alienado e quer um novo (ou outro) poder em Moçambique. Infelizmente, isto tem muito pouco a ver com ciência e intelectualidade, mas onde a gente se afasta da intelectualidade “normal” é difícil bloquear o charlatanismo intelectual. Ele comete o erro típico do intelectual do óbvio ao simplificar dois fenómenos: a violência e o não-desenvolvimento. A soberba da Frelimo, sobretudo a partir de 75 é um factor de realce, mas ignorar a natureza criminosa da Renamo e a sua hostilidade à dignidade humana é intelectualmente irresponsável. Igualmente, achar que o não-desenvolvimento de Moçambique prove que a Frelimo é o problema é o tipo de raciocínio típico de quem avalia processos pelos resultados, uma postura logicamente falaciosa, mas bem coerente com a intelectualidade da verdade. Agora, confundir uma luta empreendida por um grupo com a insatisfação das pessoas é analiticamente descuidado, mas típico da intelectualidade do povo. Então, numa única entrevista temos a demonstração dos três tipos de vícios epistémicos que dão mau nome ao trabalho intelectual.
No fundo, o que estou a pedir é que o debate entre os intelectuais em Moçambique melhore de qualidade. Critérios claros ajudam nisso. Não vai ser fácil porque há, infelizmente, muita gente com acesso à informação e que confunde isso com conhecimento. São essas pessoas que aplaudem os intelectuais do óbvio, da verdade e do povo e, com esses aplausos, contribuem para que eles não ajudem. Esses vícios epistémicos produzem um ambiente hostil ao exercício intelectual. Por exemplo, alguém me acusava de ser sempre negativo em relação a este governo e, sobretudo, em relação ao actual presidente. Para além disso não ser verdade – sempre fui crítico em relação a todos os governos desde Chissano, passando por Guebuza até Nyusi (elogiando, também, o que eles faziam de bem; infelizmente, tenho pouco por elogiar em relação ao actual governo) – há algo grave nessa nessa acusação: transforma-se a crítica num acto hostil e o crítico num inimigo reunindo, dessa maneira, tudo o que é necessário para que pessoas com excesso de zelo se encarreguem de partir as pernas dessa pessoa numa praia qualquer de Maputo.
Uma das razões que me faz fã de Guebuza é que quando muitos iam ter com ele, segundo o que me contaram na altura alguns amigos próximos dele, para o “alertar” contra as minhas críticas ele retorquia dizendo que eu não estava a fazer mais, nem menos do que o meu trabalho como intelectual. E antes que apareça aqui a dizer “mas comigo ele não fez isso”, eu só estou a falar de mim para dizer que por vezes não são os chefes que são o problema, mas sim os assessores que não passam de intelectuais do óbvio, da verdade e do povo.
*Elísio Macamo. É Professor de estudos africanos na Universidade de Basileia.